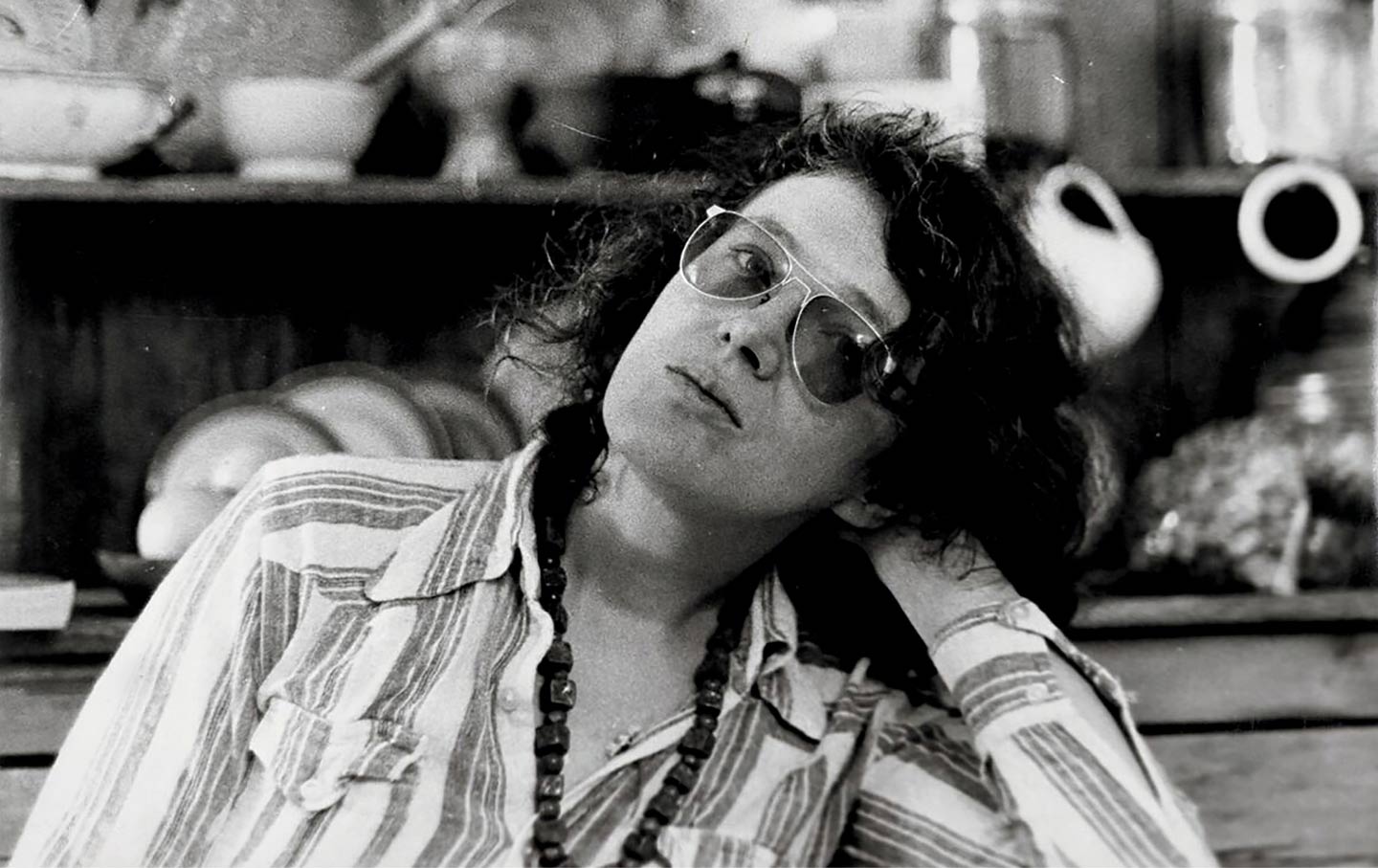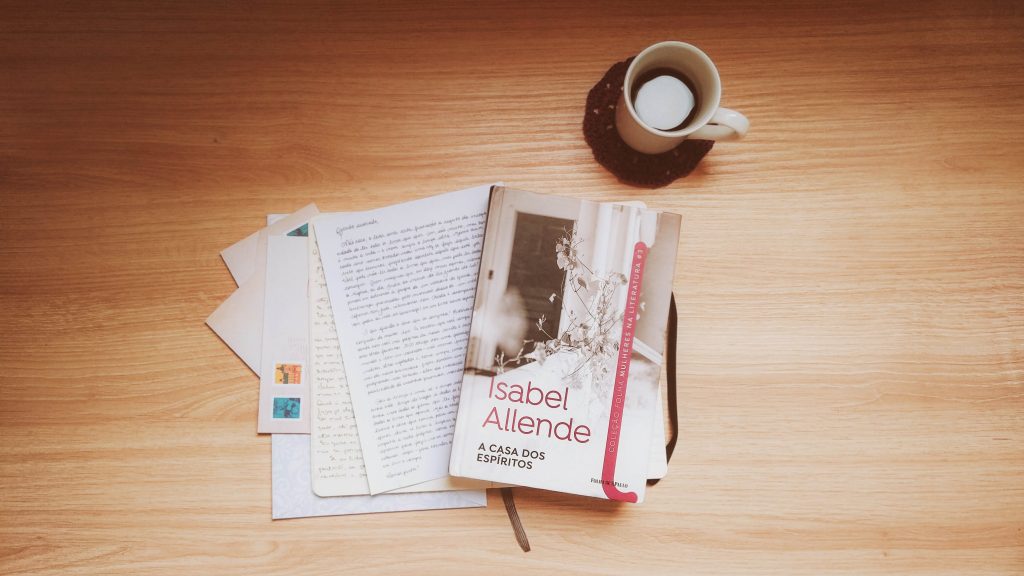
A casa dos espíritos, da escritora chilena Isabel Allende, é uma saga familiar marcante, daquelas que quando estamos lendo é impossível abandonar, que nos fazem agradecer pelo enorme número de páginas e com as quais viramos madrugadas lendo.
A história se passa ao longo do século XX e tem como pano de fundo desde o período oligárquico, dos grandes latifúndios, até a ascensão do socialismo e o golpe militar. Aliás, qualquer semelhança com o que aconteceu na história do Chile não é mera coincidência. Isabel é sobrinha de Salvador Allende, presidente de esquerda eleito em 1970 e morto em 11 de setembro de 1973, durante o golpe militar que instaurou a ditadura no país.
A casa dos espíritos, publicado em 1982, traz esse contexto político bem delineado e faz diversas alusões ao que de fato ocorreu naquele lugar, o que torna este um romance bem interessante pelo caráter histórico também e que encontra ressonância na história de outros países da América Latina, não apenas do Chile.
O enredo segue principalmente em torno das mulheres, cujos nomes repetem um mesmo significado: Nívea, Clara, Blanca e Alba. Acredito que eles estejam relacionados a ver com clareza, com pureza de sentimentos e, no caso da personagem Clara, com a clarividência.
São as mulheres os espíritos livres dessa história, com tendências progressistas e sem as amarras sociais do patriarca Esteban Trueba, marido de Clara, pai de Blanca e avô de Alba. Ele é a imagem exata do arauto dos bons costumes e das tradições, do amor à pátria e da suposta honestidade que, no fundo, escondem uma enorme hipocrisia e uma imensa capacidade de opressão e injustiça. Além disso, é um paranoico anticomunista.
O tom de realismo mágico da obra se dá a partir de Clara, que tem poderes sobrenaturais, é capaz de mover objetos e prever acontecimentos, especialmente catástrofes e mortes violentas. Algo que torna esse aspecto místico mais interessante é que não se trata de uma literatura fantástica, simplesmente, mas de uma narrativa que traz o elemento mágico como sendo uma parte da realidade experimentada sobretudo entre nós, latinoamericanos.
“Clara habitava um universo criado para ela, protegida das inclemências da vida, no qual se confundiam a verdade prosaica das coisas materiais e a verdade tumultuada dos sonhos, onde nem sempre funcionavam as leis da física ou da lógica. Clara viveu esse período ocupada com suas fantasias, acompanhada pelos espíritos do ar, da água e da terra (…)”
Por outro lado, às vezes a obra assusta de tão atual, especialmente agora que vivemos tão forte uma suposta “ameaça comunista” e o fantasma da ditadura militar retorna e ganha relevância no centro do poder político. Não que isso seja uma grande surpresa, uma vez que se trata de um aspecto da nossa história recente, mas é surpreendente como os discursos e as opressões se repetem idênticas passadas tantas décadas. Algumas passagens de Esteban Trueba poderiam facilmente corresponder às figuras políticas que temos hoje em nosso país:
“Trueba considerou que era o momento de sair em defesa dos interesses da pátria e do Partido Conservador, uma vez que ninguém melhor do que ele poderia encarnar o político honesto e incorruptível, como ele próprio anunciava (…) Respeitava a lei, a pátria e a tradição, e ninguém poderia acusá-lo de nenhum delito maior do que escapar aos impostos.”
Para quem leu Paula – livro homenagem/biografia que Isabel Allende escreveu para a filha – antes de ler A casa dos espíritos, o tom autobiográfico que essa obra de ficção exala se torna mais evidente, especialmente porque em Paula, Allende escreve algo sobre as mulheres da família, sua excentricidade, espírito progressista e capacidade de clarividência.
Esse é um livro impecável e já se tornou um dos meus favoritos. É daqueles carregados com muitos detalhes históricos e narrativas minuciosas das personagens, notáveis por suas características incrivelmente humanas, perturbadoras e emocionantes, com as quais nós, em nossa fatídica condição humana, logo nos identificamos.