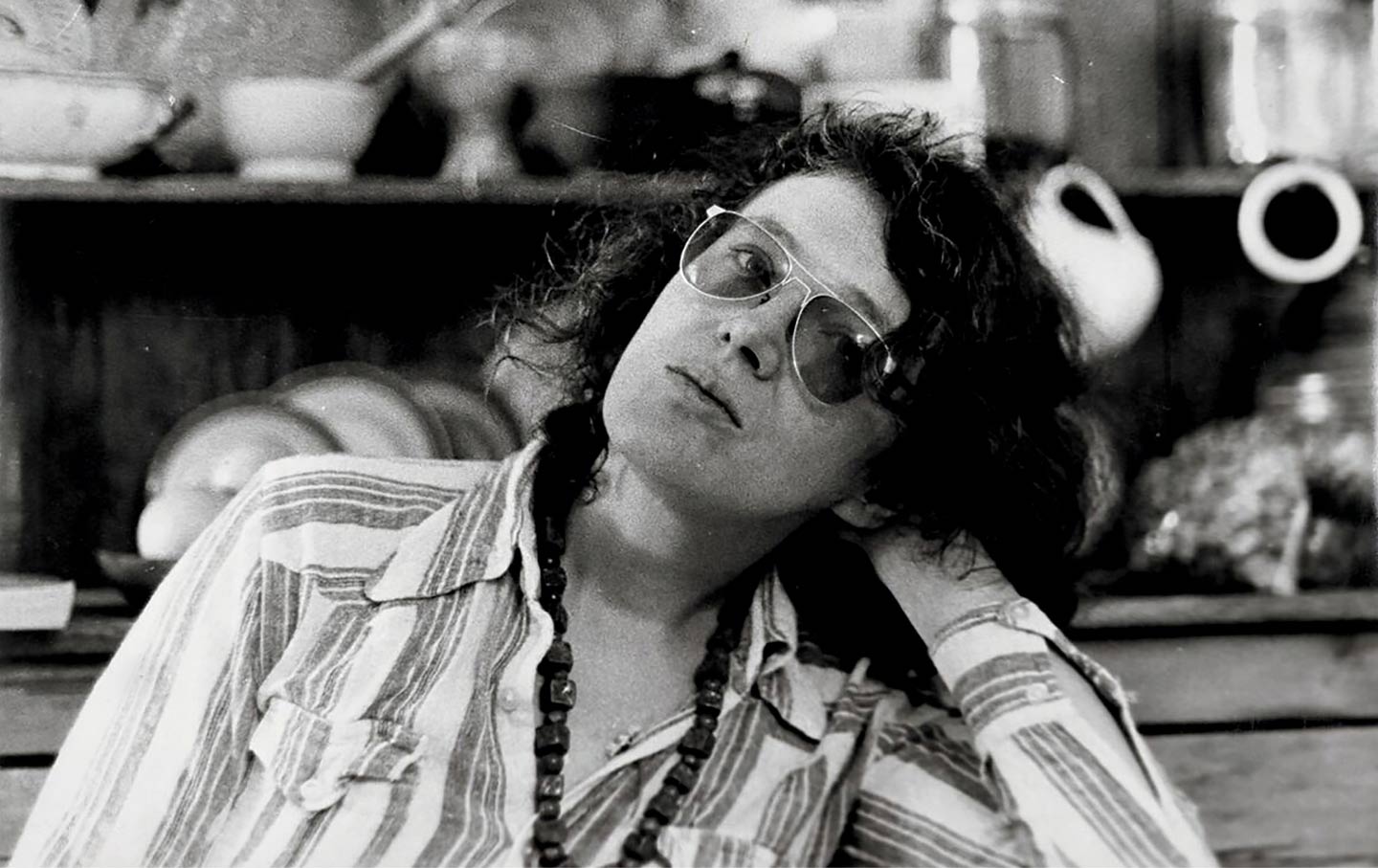
Coisas sangrentas e literatura fantástica não são o meu forte. Não é que eu nunca goste, mas é um gênero cujas obras dificilmente estão entre as minhas primeiras escolhas. Se A Câmara Sangrenta, da escritora inglesa Angela Carter, não viesse numa caixinha da TAG – Experiências Literárias, eu provavelmente não teria tido contato com esse livro tão cedo (valeu, TAG!).
Seus contos remetem a clássicos do folclore universal contados para crianças, como Chapeuzinho Vermelho, A Bela e a Fera e O Barba Azul, porém, com elementos nada infantis. Por conta disso, é comumente apresentada como um conto de fadas para adultos, definição que a própria Angela Carter detestou.
Talvez porque, ao dizer isso, presume-se que ela apenas adicionou o elemento “adulto”, ou seja, o erótico e o sangrento, às histórias da carochinha. Mas a verdade é que este livro não é uma simples releitura desses clássicos e essa percepção esconde a proposta absolutamente original do livro, que apesar de tomar como ponto de partida contos conhecidos por todo mundo, criou histórias que não precisaram recorrer a artifícios mirabolantes para serem autênticas.
A câmara sangrenta foi publicado na década de 1970, quando o debate sobre feminismo e papeis de gênero na sociedade estava em alta. Em parte, isso se reflete no fato de que as personagens principais de Carter são mulheres. Além disso, a maneira como elas foram construídas subverte a tradição do gênero feminino na literatura dos contos de fadas, de modo que suas personagens não aparecem nenhuma vez como representação da suposta fragilidade feminina.
Assim, temos uma Bela que até podia estar sob o domínio da Fera, mas que também tinha seus próprios recursos para virar o jogo. A jovem do conto que dá título ao livro – e que pra mim é a personagem mais bem construída dessa obra – podia até ser vítima do Barba Azul, mas não era incapaz de tomar consciência disso e de agir em favor próprio. Quanto à Chapeuzinho Vermelho, ela sequer aparece como vítima.
Penso que essa narrativa era a metáfora perfeita para a condição da mulher naquela nova – nem primeira, nem última – ruptura com a sociedade patriarcal dos anos 1970: admitir que a opressão masculina existe e que mulheres são frequentemente alvo da violência dos homens, mas sem naturalizar o papel de passividade relegado ao gênero.
Isso traz uma perspectiva que não é romântica e rompe com a ideia da mulher que é tão passiva, tão vítima, que é incapaz de agir, sobretudo quando a ação envolve violência, e de ser realmente protagonista de sua história.
Mas além das questões de gênero, também é marcante na obra a dualidade humana e animal sem fronteiras bem definidas, como se todos fossem tanto uma coisa, quanto outra. De certa forma, isso diminui a estranheza que sentimos em relação ao animalesco das personagens, que se tornam mais humanas, e dá uma pegada realista para essa narrativa fantástica.
Em A câmara sangrenta, somos nós, mulheres e homens, tanto humanas, quanto animais, tanto vítimas, como algozes. E diferente do que pode parecer, dizer isso através desses contos não diminui a competência da autora no debate das opressões de gênero, nem reforça violências. Antes, dá a mulher a dimensão do que ela pode ser: integral, completa, agente de sua vida e não apenas o resultado daquilo que o homem fez dela.
Tudo isso torna esse livro imprescindível e fazem da escrita de Angela Carter fenomenal. Trata-se de uma escritora que nos ganha nas primeiras linhas, seja pela beleza e fluidez da linguagem, seja pelo enredo nada convencional; mas também pela descrição ampla, com a composição do ambiente e das emoções das personagens aparecendo mais do que as situações concretas, propriamente ditas, o que faz dessa uma obra com forte apelo psicológico, sendo este também um de seus maiores méritos.


